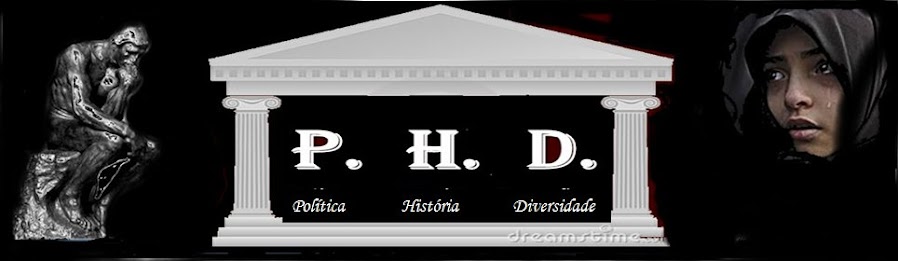Eles chegaram de repente, pilotando carros puxados por fogosos cavalos. Sabe-se que eram semitas e que vieram da Síria-Palestina, talvez empurrados pelas incursões de iranianos e anatolianos, à altura de 1.800 aC. Transpondo a fronteira do Egito, invadiram o delta do Nilo, onde receberam acolhida e reforço dos semitas já estabelecidos na terra de Goshen (citada na Bíblia como o lugar onde a família de Jacob se teria instalado, sob a proteção de José).
Máneton, que os chamou - não sem desdém - de "Hicsos" (um termo cujo significado mais aceito é o de "príncipes dos pastores"), conta como aconteceu:.
" Tivemos uim rei chamado Toutimaios (...). Sucedeu que, no seu tempo, vieram do Oriente uns homens de raça ignóbil, que tiveram a ousadia de invadir nosso país e facilmente o subjugaram pela força."
Suprema vergonha! Os invasores submeteram o Egito sem travar uma batalha sequer.
É bem possível que a rápida consumação da conquista se tenha devido não apenas à traqueza dos faraós da XIII Dinastia, mas também aos carros usados pelos conquistadores, que os egípcios desconheciam como arma de guerra.De há muito, pastores e pequenos agricultores semitas deixavam seus lares, à época das secas, e buscavam refúgio no delta do Nilo. E não eram poucos os que acabavam ficando por lá, definitivamente. Portanto, a presença de semitas na região do delta constituia um processo pacífico de ocupação estrangeira, autorizado pelo governo egípcio, que usufruia desse imigrantes humildes como mão de obra barata e abundante, em obras públicas. Só que agora a situação era outra. Os que ingressaram no país, nos tempos do "rei Toutimaios", nada tinham de pacíficos. Ao contrário, não será absurdo associá-los aos temíveis "rutenu" e "aamu", citados em fontes egípcias nos tempos de Senusert I.
É ainda Máneton quem diz que, apesar de não encontrarem resistência, os "pastores" queimaram cidades, derrubaram templos de deuses egípcios e maltrataram os habitantes do país, matando alguns e escravizando outros.
O domínio dos Hicsos parece ter durado cerca de 500 anos, porém esse domínio quase sempre não se projetava muito além da região do Delta, tendo po eixo a cidade de Avaris, no nomo saíta. No sul do país, após um tempo de anarquia, organizou-se um governo nacional em Tebas, que se tornou o coração da resistência egípcia. Foi dessa cidade que partiu a força militar que acabaria por expulsar os odiados invasores semitas. Um fragmento do Papiro Sallier, redigido no tempo da XIX Dinastia, descreve como começou a luta que poria fim ao domínio dos Hiksos, 3 séculos depois.
Expulsos do Egito, alguns grupos semitas internaram-se na península do Sinai, onde levaram uma vida de beduínos por muitos anos, antes de retornarem à Palestina. Entre eles, estavam os que viriam a ser conhecidos como "israelitas".
.......................................................................
alvaro Rodrigues (dez/2010)